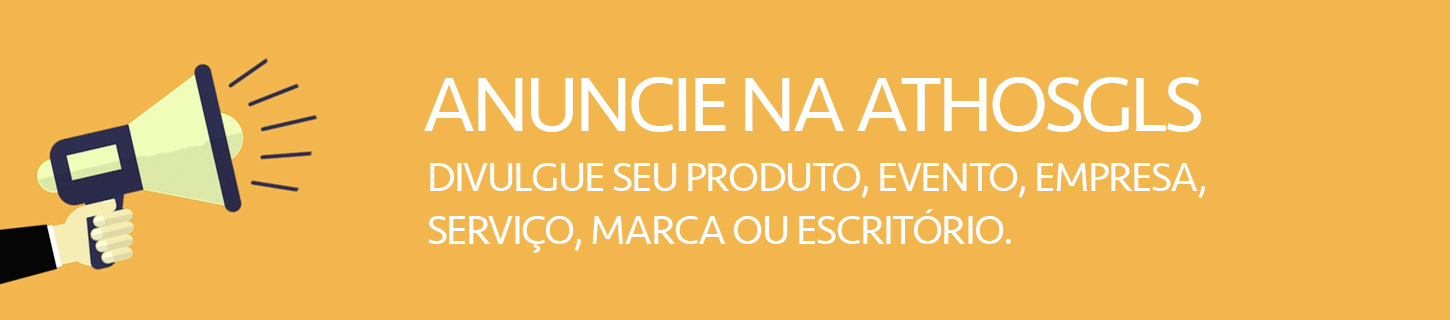Filipe Roloff, 27 anos, é bacharel em Comércio Exterior e funcionário da empresa alemã SAP.
Se há 10 anos era mais custoso assumir a homossexualidade no trabalho, hoje isso pode ser a saída para uma empresa lucrar. Com esse discurso, o gaúcho Filipe Roloff foi eleito em outubro um dos 50 futuros líderes LGBTs mais importantes do mundo pelo jornal britânico Financial Times. Roloff lidera, desde São Leopoldo, o Pride@SAP Brasil, grupo que atua para tornar a companhia nacionalmente mais amigável a funcionários LGBTs. Os resultados de trabalhos como esse – para os trabalhadores e as próprias empresas – são confirmados por pesquisas: levantamento feito em 2015 pela consultoria McKinsey and Company com 350 grandes empresas da América do Norte, América Latina e Reino Unido mostrou que as instituições com maior diversidade de gênero e raça obtinham 35% a mais de retorno do que suas concorrentes.
Trata-se de um grupo de colaboradores aliados à causa LGBT que, unidos, buscam criar uma cultura inclusiva na empresa. Criamos iniciativas de afirmação para quem é LGBT e para que todos entendam que a diversidade não é um problema, mas uma solução, porque traz produtividade e cria relação afetiva com a empresa.
Quais são os benefícios de valorizar a diversidade sexual, de gênero e racial em uma empresa?
Pessoas que criam um laço afetivo com a empresa produzem mais e são mais felizes. Em um lugar que trato como segunda casa, dou mais de mim. Assim, trabalho para que a empresa seja melhor e falo para outras pessoas como me sinto bem. Tem muito a ver com inovação. Tanto que a maioria das empresas que começaram a valorizar a diversidade é de tecnologia. Não há como criar um ambiente inovador sem respeitar as diferenças. Esse é um problema na política brasileira: não temos a representatividade necessária para resolver os problemas de toda a população, que é diversa.
As demandas do Pride no Brasil são diferentes das dos outros países?
Sim. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Aqui, um grupo assim tem muito peso. É o trabalho desse tipo de grupo, aliado a ONGs e outros agentes, que promove a transformação cultural e social, já que os políticos não assumem esse papel. A cultura brasileira tem duas dimensões sociais. A primeira é que somos um país individualista, não temos pensamento com noção de comunidade, como, por exemplo, a China e os países nórdicos. A outra: temos como marca um certo afastamento do poder, no caso das pessoas em níveis sociais vistos como inferiores. Elas não se sentem aptas a ir além e contribuir com o país. Alguém em uma classe social baixa não acha que pode mudar alguma coisa.
E como isso se reverte nas empresas?
Em um país no qual as pessoas não sentem que fazem parte da coletividade, elas também não se sentem capazes de contribuir com níveis superiores de trabalho. Pensam: “Eu não trago minha ideia porque acho que não é importante”. Já que o fato de ser LGBT é um problema na sociedade, ligado inclusive à violência, a pessoa não traz sua visão de vida e não entende que integra outros ambientes que não aquele dos seus semelhantes. Isso é afastamento de poder.
O mercado está mudando. Hoje há o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, fundado em 2013 e que conta com grandes companhias comprometidas em melhorar a diversidade. O que está por trás disso?
Esse movimento, lastreado por multinacionais que entendem que a inclusão da diversidade traz resultados, é uma resposta que aconteceria de qualquer maneira a uma realidade geracional. O fórum e os grupos de diversidade que se formam para discutir o assunto são uma forma de mostrar ao mercado que as coisas estão mudando e que não basta só trazer as pessoas para dentro da empresa ou dar espaço para trabalho: é preciso dar significado a esse trabalho. A nova geração quer trabalho com propósito.
O quanto a inclusão de LGBTs em uma empresa é uma forma de abraçar a diversidade e buscar um mundo melhor? E o quanto é apenas uma forma de motivar os funcionários a render mais?
É uma linha muito tênue. Aí entra o walk the talk, ou seja, quando a empresa segue o que realmente fala. Há uma análise sobre o quanto uma empresa faz propaganda pró-LGBT sem ter isso desenvolvido dentro da empresa – o que pode parecer desonesto. Mas, ao mesmo tempo, é um primeiro passo. Você passa uma mensagem externa e, dentro da empresa, as pessoas começarão a cobrar aquilo.
Apesar das mudanças, 61% dos brasileiros não saíram do armário no ambiente de trabalho, mesmo quando são abertos sobre sua sexualidade fora dali, segundo pesquisa divulgada em 2017 pelo Center for Talent Innovation. E ainda são poucas as companhias brasileiras que fazem parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. As empresas brasileiras têm dificuldade em investir na área?
Sim, muito. Esse é o maior desafio de grupos como o Pride: mostrar que se abrir para a diversidade é bom para todo mundo, e não só para os LGBTs. Empresas brasileiras vivem só a realidade nacional e não sabem como ser diferentes nesse aspecto, o que não é o caso das multinacionais. As empresas estrangeiras trouxeram líderes de fora mostrando como determinada ação pode ser benéfica. É o papel das multinacionais, desses grupos de diversidade e de pessoas que vivem essa realidade mostrar às empresas nacionais o quão benéfico para todos é abraçar a diferença.
Como tratar o preconceito em empresas e cidades menores? Ainda: há uma diferença em implantar políticas de apoio à diversidade em nível executivo e no “chão de fábrica”?
O tempo está passando, as novas gerações estão vindo e a mudança vai acontecer. Cada empresa tem uma realidade diferente, é como se fosse um minipaís. Aposta-se muito nos grupos de inclusão porque são uma forma de criar algum tipo de liderança honesta. E que esteja de acordo com cada realidade. Seja como for, se não se apostar na diversidade, fica-se para trás. A mensagem é essa: as empresas que não se prepararem para essa realidade ficarão para trás. Se usamos a inovação como mindset inclusivo, pensando na sustentabilidade das relações, temos tudo para dar certo.
Como lidar com piadas, fofocas e outros tipos de interações veladas? Uma pessoa pode ser assediada mas ficar com o medo de levar para o RH e ter alguma represália, ou mesmo passar uma imagem de ser fraca.
A pessoa sozinha, dentro de uma empresa estruturalmente preconceituosa, não fará nada. Se ela se manifestar, pode até ser demitida, ou o assunto poderá ser contornado de tal forma que ela seja apontada como incompetente. A empresa tem de, estrategicamente, mostrar que apoia a diversidade, desde os níveis hierárquicos mais altos. Deve colocar no time, de forma visível, que preconceito não é aceito e que haverá consequências se houver discriminação. Não há como acabar com o preconceito, todos nós o temos e é preciso admitir que ele existe para diminuir seus efeitos, minimizá-lo. Em vez de a pessoa LGBT não se sentir à vontade para interagir, a pessoa que discrimina é que não se sentirá à vontade ao discriminar. As empresas precisam saber que perderão talentos se eles não forem acolhidos. E é preciso diálogo para diferenciar má-fé de ignorância. Porque é possível transformar o campeão de preconceito em modelo de diversidade. Não há nada mais transformador do que uma pessoa se dar conta de que era preconceituosa e passar a ser diferente. Isso é melhor do que demitir, excluir, descartar. Um estudo feito em 2015 pela organização internacional ActionAid mostrou que os países perdem até US$ 9 trilhões devido à desigualdade de gênero. Tudo simplesmente por preconceito, porque mulheres são obrigadas a ficar em casa ou a não lutar para subir em suas carreiras – causando perda de dinheiro que poderia ser recolhido com impostos. O preconceito significa perda de dinheiro, de oportunidades e de inovação.
É preciso diálogo para diferenciar má-fé de ignorância. É possível transformar o campeão de preconceito em modelo de diversidade. Não há nada mais transformador do que uma pessoa se dar conta de que era preconceituosa e passar a ser diferente. Isso é melhor do que demitir, excluir, descartar.
Nos últimos anos, grandes empresas miram cada vez mais o público LGBT, sobretudo em campanhas publicitárias. Há pouco mais de 20 anos, isso era inviável. Esse tipo de ação traz apenas dinheiro ou também capital social?
Entendo que, a longo prazo, uma transformação ocorre inevitavelmente. Passamos por um momento de retrocesso no país e no mundo, com o avanço do conservadorismo, mas ações pela diversidade consolidam uma empresa como defensora de causas morais e éticas. Para as novas gerações, isso é relevante. A Skol, por exemplo, até há pouco era uma marca que só trazia a mulher de biquíni segurando cerveja, e agora se reposiciona em prol da diversidade, mostrando que ainda consegue manter um resultado muito positivo, porque atinge essa população de millennials (a chamada Geração Y, que chegou ao mercado no novo século) que também consome cerveja e agora se vê na propaganda. Essa representatividade costuma trazer retorno a curto prazo, sim. Não é só uma conquista dessas novas gerações: é uma resposta das empresas, que também saem ganhando.
Qual é a importância de se ver na TV, num filme, num programa como o BBB?
Os grupos minorizados percebem que podem participar da sociedade da mesma forma que qualquer outra pessoa. Todos podem estar onde quiserem. Ao ver que há um LGBT na política, por exemplo, entendo que posso ser um político também.
São poucas as lideranças trans nas organizações – Danielle Torres é um raro caso, na KPMG. Um relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) publicado em janeiro mostra que o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil é o maior nos últimos 10 anos. E a organização Transgender Europe diz que somos o país que mais mata trans no mundo. A inclusão não estaria ocorrendo apenas para o público gay com poder de compra?
O mercado não pode achar que basta dar visibilidade a apenas uma parcela da população LGBT. Quando você foca só em homens gays brancos de classe média – o chamado pink money –, você também invisibiliza a população que não está no mercado de trabalho por causa do preconceito. Aí, entra o papel desses homens gays de serem aliados à população trans e a outras causas. É nossa responsabilidade trazer visibilidade a quem é marginalizado. As mulheres trans sofrem duas vezes, por serem mulheres e por serem trans, por transgredirem o masculino e o feminino. Não há como mudar isso de uma hora para outra, mas há um processo nesse sentido.
Como você avalia o caso da Coca-Cola, cujo núcleo de diversidade sexual mostrou uma foto na qual não havia mulheres, nem negros, nem gordos?
Sempre se fala que um grupo de diversidade tem de ter representatividade, e espera-se que ele seja feito por voluntários. Se uma empresa majoritariamente feita por homens quer criar um grupo de diversidade LGBT, não podemos dizer para uma mulher participar apenas para obter uma cota socialmente aceita. Aí entra a questão: deixamos de criar um grupo de diversidade por não ter vários recortes sociais entre os voluntários ou o criamos mesmo assim enquanto se trabalha para chegar a mais diversidade na empresa? Simplesmente criticar pelo recorte social não é o caminho.
Em meio a esse aumento de visibilidade da população LGBT, há uma onda em sentido contrário. Como você enxerga esse embate de forças?
Sempre que há novos ciclos de realidade e de tecnologia, há também uma força contrária, de mesma proporção. Essa força é composta por quem não estava conectado, não se entendia como grupo, não entende a nova realidade de inclusão nem como isso é positivo para todos. A falta de educação é um problema. Em um país que não valoriza a educação de forma sistemática, como o Brasil, as pessoas não entendem a importância da diversidade e da inclusão.
Qual é a importância de dialogar mesmo com quem pratica o preconceito?
Essa é uma das questões mais difíceis. É importante entender de onde vem o ódio. Ao mesmo tempo, como criar um diálogo no momento em que o ódio se conecta pelas redes sociais, que formam bolhas dentro das quais as pessoas veem apenas o que acreditam? Temos no Brasil essa questão de não conversar, não ouvir o outro, porque o que nos interessa é provar o nosso ponto. O fato de não sairmos do nosso grupo social para entender o outro, e por sermos um país individualista, com essa ideia de distância do poder de que falei antes, pode explicar esses embates. O mais importante é que quem tem senso de mudança social deve entender que o país precisa de mais líderes que saiam de sua zona de conforto e assumam um potencial transformador. É preciso entender as diferenças para promover ações positivas – a partir da liderança.
Um estudo da ActionAid mostrou que os países perdem até us$ 9 trilhões devido à desigualdade de gênero. Preconceito ignifica perda de dinheiro, de oportunidades e de inovação.
A população LGBT conseguiu a união estável e o direito de estender benefícios previdenciários e de plano de saúde ao cônjuge. Mas isso só veio por via judicial. Do Legislativo e do Executivo surgem menos ações pró-população LGBT. As grandes mudanças só vão ocorrer por judicialização?
O Legislativo tem pouca representatividade. Elegemos sempre as mesmas pessoas, do mesmo padrão, para nos representar – por isso os eleitos não entendem a necessidade de se criar políticas públicas que acolham os mais diversos tipos de pessoas. A mesma relação ocorre em uma empresa: sem um recorte de diversidade, não há como trazer inovação para responder a problemas com novas soluções. As pessoas precisam entender o quanto é importante votar conscientemente.
Como você avalia o reconhecimento internacional que vem obtendo? Como se sente mostrando-se como um exemplo de sucesso?
É uma responsabilidade que tenho. Sempre estou na linha tênue entre me posicionar e não ser pretensioso, porque sei o quão importante é a presença de líderes como exemplo. Quando comecei a me expor socialmente como um LGBT e a trabalhar isso de forma positiva, mostrando que traz resultado inclusive financeiro para as empresas, muitas pessoas vieram falar comigo por representá-las, de forma a validar minha exposição. Uma pessoa me disse que saiu do armário para os pais depois que viu que era possível ter uma carreira sendo LGBT, mostrando para eles o reconhecimento a mim por parte dessa lista publicada pelo Financial Times. Se eu puder continuar a promover essa transformação e dar o exemplo até termos uma pessoa com menos privilégio que eu tomando o meu lugar, estarei cumprindo meu papel.
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/02/empresas-que-aceitam-a-diversidade-lucram-mais-diz-gaucho-que-e-referencia-lgbt-no-mundo-cjdouk0ed01wa01n3gvk18el2.html